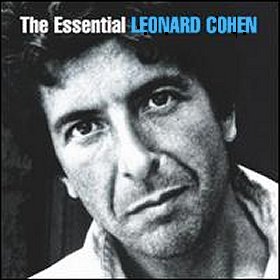"O Controlo do Tom em Turner É Fantástico"
Sábado, 12 de Abril de 2003
%Isabel Salema
Não é comum a mesma pessoa juntar as qualidades de pintor, historiador de arte e conferencista. Eric Shanes, que esteve em Lisboa na semana passada para falar sobre o mar nas pinturas de Turner, tem ainda a qualidade acrescida de gostar de tudo o que o pintor inglês fez. Gosta da luz, das cores e tons, da complexidade, do humanismo. "Gosto dele porque é moderno."
Foi nas aguarelas que J. M. W. Turner (1775-1851) aprendeu a dominar a cor e as suas diferentes tonalidades, meio que explorou numa verdadeira "linha de produção". Ele, que conseguia fazer uma aguarela parecer um óleo, usou a técnica para chegar ao modelo a ser impresso em gravura - publicou centenas delas em livros - ou para experimentar a sua imaginação.
O seu processo de trabalho nas aguarelas dedicadas ao mar é o tema da exposição do Museu Gulbenkian, um sucesso de público que já teve XXXXxxxxx visitantes.
PÚBLICO - Entre as 10 mil aguarelas de Turner, é possível ter uma ideia clara por que razão usava tanto este meio?
ERIC SHANES - Há entre nove a dez mil aguarelas, entre esboços e estudos. É muito claro que Turner as fez numa linha de produção. Espalhava muitas folhas de papel pelo quarto e, enquanto a primeira secava, já estava a trabalhar na segunda.
A aguarela é um processo onde se trabalha a paleta, obrigatoriamente, do claro para o escuro. Turner escolhia uma cor e punha um bocadinho nesta aguarela, outro naquela e assim sucessivamente à volta de todo o quarto. Depois, fazia-a ligeiramente mais escura e punha aqui, ali e além. Gradualmente, o trabalho torna-se mais escuro.
P. - Mas fazia a mesma coisa nas diferentes folhas?
R. - Quando Turner era muito novo, queria fazer aguarelas com muitos tons diferentes, várias formas de cor, do claro ao escuro. Para fazer isso, é necessário uma grande paleta de cores. Ou então é mais fácil ter apenas uma cor e pô-la em folhas diferentes. Depois, faz-se essa cor ligeiramente mais escura. Gradualmente, temos uma grande variedade, mas sem ter de usar uma grande paleta. É por isso que Turner usava muitas folhas.
P. - No final, quantas folhas diferentes teria?
R. - No final teria um trabalho como este, completamente acabado [aguarela de Plymount], mas começaria muito, muito claro. A razão por que há na exposição tantas aguarelas muito claras é porque são fases que nunca foram desenvolvidas.
Turner também faz esboços para explorar a imaginação, para ver o que vai acontecer. Nem sempre começa com uma ideia clara na cabeça. Empurra a tinta de um lado para o outro e no processo a imagem inspira-o. Por isso, fazer muitos trabalhos é também um caminho.
P. - É normal para a época esta variedade experimental?
R. - Turner é único no seu tempo, diria mesmo único noutra época qualquer.
P. - Nessa altura, na Royal Academy, os pintores aprendiam algum processo de trabalho semelhante?
R. - Não, Turner aprendeu isto através da sua própria experiência, no seu próprio estúdio.
Quando Turner era estudante de Arte, não se ensinava pintura. Havia só uma escola de Arte em Inglaterra - a Royal Academy School -, onde aprendeu a desenhar. Primeiro, através de esculturas de gesso, progredindo depois para o desenho com modelo nu.
Turner foi estudante de 1789 a 1797, indo à academia uma ou duas vezes por mês, não era como hoje a universidade. Por isso, teve que encontrar cá fora os pintores a seguir.
P. - Porque é que Turner fez tantas viagens no país e no estrangeiro. É um hábito da época?
R. - Não havia máquinas fotográficas ou outra forma de encontrar os assuntos. Os artistas do passado já faziam "tours". Os aristocratas faziam a "grand tour" - iam a Itália e França para olhar para os grandes mestres.
P. - No princípio da exposição, vemos que Turner é muito influenciado pelos mestres da pintura antiga.
R. - Durante toda a vida Turner teve um diálogo com os mestres, por causa da sua aprendizagem na Royal Academy. Tinha 14 anos quando chegou à Royal Academy e foi entrevistado pelo presidente, Sir Joshua Reynolds, um grande retratista. Reynolds encorajou-o e Turner admirou-o para o resto da vida. Quando estava a ficar velho e redigiu o seu testamento, Turner pediu mesmo para ser enterrado o mais próximo possível de Reynolds na Catedral de S. Paulo. Foi o que aconteceu.
Nas suas 15 conferências na Royal Academy, Reynolds, entre outras ideias que deu a Turner, disse que um artista tinha que aprender com os mestres do passado.
P. - Quais são as influências que se vêem na Gulbenkian?
R. - Nas marinhas, Turner tem um diálogo com a arte holandesa, que tinha uma escola de pintura de marinhas. Os franceses e os italianos nunca se dedicaram muito a pintar o mar.
Turner olhou para Ruysdael, Rembrandt, Van der Velde, Backhuysen... Nas suas marinhas, está sempre a pensar na pintura holandesa de marinhas e a tentar ultrapassá-las.
P. - Como é que descreve a evolução do uso da cor em Turner?
R. - Dos 15 aos 30 anos, ele é principalmente um tonalista. Não está interessado na cor, mas na variedade da cor, do claro ao escuro. Em 1819, vai para Itália e começa a pensar cada vez mais em termos de cor.
Mas é preciso ver que, quando as coisas são muito claras, não é possível ter uma grande variedade de tons: a razão por que as coisas parecem brilhantes é porque estão todas numa banda muito reduzida de tom.
Por isso, Turner é tonalista no princípio, chega depois às cores brilhantes, mas sempre numa variedade reduzida.
P. - Turner é criticado a certa altura por usar guache branca para representar as ondas.
R. - O papel que se usava na época de Turner, feito de trapos, era muito mais forte do que o actual, feito de madeira. Por isso, Turner molhava o papel e com a unha, ou uma pequena faca, raspava-o para revelar o branco por baixo.
Numa altura, Turner pensou que podia fazer um atalho e usar a tinta branca, mas os críticos disseram que parecia gesso e ele abandonou o processo. Depois disso, foi muito mais cuidadoso ao fazer os efeitos brancos da água.
Penso que Turner é o maior pintor do mar, porque, mais do que qualquer outro pintor na história das marinhas, percebe a dinâmica submersa da água em movimento. Isto leva-nos outra vez a Reynolds e aos seus discursos, onde dizia que um artista deve expressar, não a aparência exterior, mas as qualidades e as causas das coisas.
P. - Isso parece muito racionalista.
R. - Reynolds era um grande racionalista e Turner seguiu-o. Para Turner, era importante expressar a essência das coisas, o que inclui a economia de um sítio, a vida social, tanto como a sua beleza ou drama.
Quando chegamos à representação do mar, Turner pensou que era importante não fazer apenas as ondas parecerem onduladas e molhadas, mas dar-lhes o ritmo do mar. É o que se vê no quadro do museu Gulbenkian que representa um naufrágio. Muitos pintores representaram o mar de uma maneira mais fotográfica que Turner, mas nenhum mostrou como ele a forma como se move.
Sublinho que Turner não é um pintor impressionista, porque impressionismo tem a ver com pegar-se na tela e nas tintas, sentar-se em frente à natureza e pintar-se o que se vê. Se isso muda, pega-se noutra tela. Turner trabalhava sempre no estúdio, de memória, da observação, de esboços, criando num diálogo com a imagem. O experimentalismo serve o racionalismo.
P. - Quais são as coisas que gosta mais em Turner?
R. - Tudo. A luz. Penso que foi um dos grandes coloristas na história da arte. Haverá talvez meia dúzia de grandes coloristas - Ticiano, Monet - tão bons como Turner. Mas ele foi o maior tonalista na história do mundo. A sua capacidade de diferenciar um tom do outro é muitíssimo subtil. O controlo do tom é fantástico.
Em Turner, é também fantástico o engenho a pensar os temas. Alguns dos significados são muito complexos. Gosto também da sua visão, ele é muito moderno. Outra coisa que gosto de Turner é não ser basicamente um pintor sobre paisagem e marinhas, mas sobre a humanidade e o nosso lugar no universo. Turner é muito humanista.
P. - Acha que as suas qualidades de tonalista lhe vêm de trabalhar muito com aguarelas?
R. - Sim, completamente.